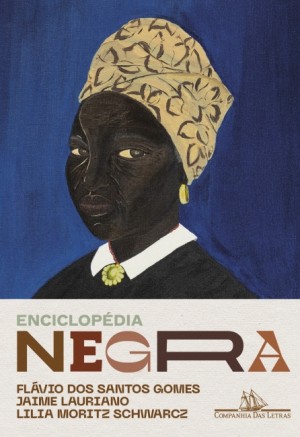Diagnóstico de um Estado doente
Os números de homicídios no Brasil equivalem à queda, diária, de um Boeing 737, totalmente lotado. Essa é uma das conclusões do Atlas da Violência de 2018, produzido pelo Ipea (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada) e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública.
O mesmo relatório atesta que no Brasil, pela primeira vez, o número de mortes violentas superou a casa dos 60 mil em um ano. Tal quadro nos coloca dentro de um grupo de países considerados violentos, com índices de mortalidade 30 vezes maiores do que aqueles observados, por exemplo, no continente europeu. Estamos falando de um total de 153 mortes ao dia; um número quase surreal de “baixas humanas”: na última década, 553 mil brasileiros perderam a vida por homicídios dolosos.
Não basta, porém, ficar apenas com os números frios das estatísticas. O melhor é interseccionar tais dados com alguns marcadores sociais de diferença, como raça, classe, geração e região.
Começo com o quesito geração: 10% do total das mortes no Brasil atingem homens jovens; dos 15 aos 29 anos. No entanto, é na faixa dos 15 a 19 anos que o problema se torna ainda mais agudo: 56,6% dos óbitos provém de assassinatos.
Há, entretanto, outras desigualdades a anotar. Se cruzarmos o marcador de geração com o de raça, percebemos que 71,5% dos jovens assassinados são negros ou pardos, mostrando como a violência no nosso país tem cor.
Também chama atenção o uso disseminado de armas de fogo, quesito que vem sendo avaliado desde 1980. Naquele momento, mortes causadas por armamentos eram da ordem de 40%. Desde 2003, todavia, o número cresceu e se estabilizou em 71,6%.
Tal patamar é superior ao dos nossos vizinhos – Chile (37,3%) e Uruguai (46,5%), por exemplo –, e se aproxima dos índices de El Salvador (76,9%) e Honduras (83,5%). Para se ter uma ideia da “ordem de grandeza”, na Europa a média é de 19,3%. Aí está uma boa régua de comparação e um excelente contra-argumento para aqueles que continuam a advogar que uma sociedade menos violenta é uma sociedade armada. Os dados comprovam justamente o contrário!
A despeito desses números serem alarmantes para o Brasil como um todo, persistem disparidades regionais importantes. Enquanto estados como São Paulo (-46,7%), Espírito Santo (-37,2%) diminuíram suas taxas de homicídio, entre 2006 e 2016, outros – como Rio Grande do Norte (256,9%), Acre (93,2%), Sergipe (121,1%), Maranhão (121,0%), Rio Grande do Sul (58,8%) e Bahia (97,8%) – mostram um crescimento impressionante.
Também existem diferenças regionais dentre as Unidades da Federação. Nos estados do Norte e do Nordeste, no ano de 2016, as taxas de homicídio alcançaram a quase 45 pessoas por 100 mil habitantes. Já nos estados do Sul, o total permaneceu na casa dos 25, e no caso do Sudeste em 20. Porém, e mais uma vez, tomados por si só os números continuam um pouco nebulosos. Por exemplo, se selecionarmos apenas o caso do Rio de Janeiro, veremos que, entre 2015 e 2016, houve um crescimento da taxa de 18% no índice dos homicídios. No que diz respeito a São Paulo, o número de assassinatos registrados na cidade, exclusivamente no mês de maio deste ano de 2018, aumentou 42% em relação ao mesmo período no ano passado.
De toda forma, o dado mais gritante é aquele que mostra como o grupo dos jovens negros, entre 15 e 29 anos, é o mais vitimizado em nossa sociedade. Eles chegam a representar 53,7% dos homicídios totais no Brasil, gerando 33.590 óbitos. Se tomarmos gênero e sexo como marcadores, é notável a presença masculina; 94,6% deles para sermos mais precisos.
E esse total tende a aumentar. Na década que vai de 2006 e 2016, o Brasil, assistiu a um crescimento de 23,3% nas mortes violentas dos seus jovens. Elas são a causa de 49,1% dos óbitos de rapazes entre 15 e 19 anos, e de 46% entre 20 a 24 anos. Para entender o que significa essa proporção elevada, basta comparar com a geração de brasileiros na faixa dos 45 a 49 anos; nesse caso, a taxa diminui para 5,5%.
O que o Atlas da Violência de 2018 demonstra, sem chance de equívoco, é que não há nada de “conversa mi mi mi” nessa área. Ao contrário, o que se constata é um verdadeiro genocídio de jovens negros, pobres, e moradores das periferias. Aliás, sem qualquer reação mais efetiva. A única (má) resposta tem vindo de setores que defendem o recrudescimento da militarização, o aumento do policiamento e das ações das milícias. O que os dados mostram, porém, é que são justamente essas mesmas medidas que têm contribuído, de forma destacada, para o aumento das mortes violentas. Marcos Vinícius não foi para a escola.
Marcos Vinícius não foi para a escola
Diante de dados tão alarmantes como esses, a explicação mais comum, aquela que alivia a má consciência, é a que se sai com argumentos do tipo: “eles que são negros que se entendam (e que se matem)”. Invertendo o provérbio que é usado, em geral, para os brancos, e sem parênteses – “os brancos (civilizados) é que se entendam” –, o suposto básico parece indicar que é mais fácil colocar a culpa nos ombros da própria vítima. Afinal, segundo tal argumento enganoso, jovens, negros e moradores dos subúrbios das grandes cidades, seriam todos drogados, violentos e sem educação formal. Ademais, tomariam parte de uma guerra interna: uterina. Portanto, “eles é que se entendam” significa, nesse contexto, tomar a consequência como causa, ou naturalizar um fenômeno que tem número e jeito de guerra civil.
Gostaria, porém, de recorrer a uma história particular, e que, lamentavelmente, “confirma a regra”. Assim saímos dos números para chegar nas pessoas. Me refiro a um assassinato que ocorreu no dia 20 de junho de 2018, durante a realização de uma operação na Maré, mais precisamente nas comunidades de Vila do Pinheiro e Vila do João, na zona norte de um Rio de Janeiro sob intervenção federal desde o mês de fevereiro deste ano.
Marcos Vinícius, de 14 anos, acordou naquele dia, excepcionalmente, às 8 da manhã. Estava atrasado para chegar ao Ciep Operário Vicente Mariano, mas não queria perder aula. Saiu apressado, apostando que venceria um percurso que demora, normalmente, 20 minutos em apenas 15. Lá foi ele, vestido com seu uniforme de escola, mochila nas costas e caderno na mão.
Entretanto, como o destino é cruel, sobretudo nessas regiões, minutos depois teve início uma operação da Polícia Civil no local onde o menino nasceu e foi criado. Segundo as informações oficiais, a ação tinha como objetivo cumprir 23 mandados de prisão contra os suspeitos que teriam participado da morte do chefe de operações da Delegacia de Combate às Drogas. Enquanto no céu de brigadeiro uma aeronave sobrevoava a área, pelas ruas soldados armados e veículos blindados atiravam muito, mas perguntavam pouco.
Marcos não tinha como saber, mas, se tivesse conseguido chegar até a escola, não teria aula naquele dia, pois, nessas situações, a ordem é manter os alunos em suas casas. Aliás, a circunstância não poderia ser definida como “anormal”, uma vez que, durante o ano de 2017, as escolas do Rio permaneceram 184 dias com suas portas fechadas, sempre por conta de tiroteios.
Segundo um colega que estava por perto, parece que Marcos bem que pensou em desistir e voltar para casa. No entanto, nesse meio tempo, acabou levando um tiro pelas costas, segundo conclusão do laudo do Instituto Médico Legal. Peritos explicaram que a bala perdida perfurou a barriga do garoto, que ainda teve tempo de se virar para o amigo e garantir que “ia dar tudo certo”. Não daria, e junto com ele mais outras seis pessoas seriam mortas nessa mesma circunstância.
Marcos ficou consciente o suficiente para lembrar que fora um “blindado” que atirara nele. A mãe, a diarista Bruna da Silva, também recorda a atitude do menino que tentou tranquilizá-la dizendo que só não falava mais “para ganhar fôlego”.
A ambulância, porém, demorou uma hora para chegar ao local; isso porque os policiais deram ordem para que ela voltasse para trás. Só depois de nova ordem superior, o carro conseguiu alcançar a casa de Marcos. Mas já era tarde. O menino foi operado no Hospital Getúlio Vargas, teve seu rim retirado e não resistiu. Segundo o relato de sua mãe, “a bala estragou tudo dentro dele (...) A única coisa que ficou foi a pressãozinha dele, que foi caindo até ele chegar a óbito”.
Para tentar minorar a situação, o prefeito Marcelo Crivella, cuja reprovação está nos 60%, ofereceu o Palácio da Cidade, uma construção branca e com jeito de realeza localizada no bairro do Botafogo, para a realização do velório. Em pouco tempo o lugar foi tomado por professores, amigos, vizinhos, colegas e familiares de Marcos. O enterro também foi pago pela prefeitura, que escolheu um cemitério de elite no mesmo bairro: o São João Batista.
O menino, que os professores descreviam como sorridente e como “o primeiro a entregar o caderno”, já não estava mais por perto para contar piada, jogar, se divertir e, sim, estudar. Mas a história ainda não acabou; animados pelos professores, cerca de 80 a 100 alunos organizaram uma caminhada, desde a Maré até a Linha Amarela. A ideia era não deixar que a morte de Marcos “passasse em branco”; mais um provérbio perverso que se refere à “transparência” e a onipresença desta cor em nosso país. Segundo alguns deles, de repente, chegaram duas viaturas carregadas com policiais, que tentaram impedir a realização do ato. Um vídeo, que circula na internet, mostra o momento em que um deles deu uma cacetada numa menina de 13 anos de idade.
A morte violenta de jovens negros da periferia não é novidade. Segundo João Duarte, professor de teatro de Marcos, “quem dá aula em comunidades acaba presenciando a morte de vários alunos. “Já perdi uns cinco ou seis”, lamentou ele. E continuou: “nem sendo vereadora (referindo-se a Marielle Franco, cujo assassinato após 110 dias ainda não foi explicado), a pessoa se salva”.
Os números do Atlas da Violência descrevem o assassinato de muitos Marcos, jovens negros das periferias de todo o país, que, a partir dos 14 anos, já entram perigosamente nas taxas de homicídio por armas de fogo.
Há muitos motivos para os brasileiros andarem desesperançados. Desesperançados com sua economia, com seus dirigentes, com a injustiça e a desigualdade social que ao invés de melhorar, vai caindo ribanceira abaixo. Mesmo assim, e talvez por isso mesmo, em ano eleitoral, não há como simplesmente desistir.
É importante ficar com os olhos bem abertos diante de quem defende intervenção policial, ditadura militar, o crescimento da distribuição e venda de armamentos e outras saídas que atentam contra a saúde democrática de nosso país. O momento pede vigilância diante de candidatos que, no momento que escrevo essa coluna, continuam a defender que no Brasil não há preconceito ou racismo, sendo, eles próprios, com suas declarações, exemplos vivos de discriminação. Dizer que “quilombola não serve nem para procriar”, que “índio não tem dinheiro, não fala a nossa língua e que não deve ter direito à terra”; que “fraquejou”, pois depois de ter três filhos “ajudou a gerar uma filha” são pequenas pérolas que Jair Bolsonaro, o pré-candidato do PSL, vai distribuindo por onde caminha. Mas ele com certeza não representa uma visão isolada; é apenas a mais eloquente. Incitar o ódio contra refugiados, mulheres, LGBTs, e negros só nos fará piores e mais avessos à democracia, que supõe o convívio e o embate com as diferenças.
Só a educação tem o poder de incluir os vários setores excluídos de nossa sociedade, e construir um país mais justo, plural e republicano. No caso de Marcos, nem seu uniforme escolar serviu de blindagem para o extermínio em massa que vem sendo praticado sobretudo nas periferias das nossas cidades, inchadas e carentes de maior estrutura. Conforme sentenciou a mãe de Marcos, esse “é um Estado doente que mata criança com roupa de escola”.