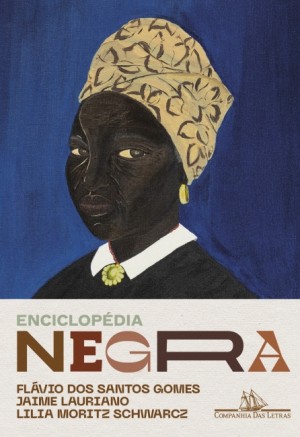A dialética do isso. Ou a ladainha da democracia racial
Vira e mexe alguém volta ao velho e castigado tema da “nossa democracia racial”. É como se esse fosse um mantra que acompanha a história nacional brasileira, independentemente do que os dados da realidade venham a mostrar. Há pouco tempo, no dia 27 de junho de 2018, foi a vez do nosso presidenciável Jair Bolsonaro declarar de maneira categórica: “Aqui no Brasil não existe isso de racismo”.
Vale a pena explorar a frase sintética e, sobretudo, o termo “isso” nela presente. A retórica de Bolsonaro dá a entender que “isso” seria algo estrangeiro e totalmente distante do nosso dia a dia. Interessante pensar como, ainda em 2018, 130 anos após a abolição formal da escravidão, voltamos sempre à exaltação da nossa “festejada mestiçagem”, da nossa “mistura racial”, como se ela fizesse parte do DNA dos brasileiros.
No entanto, se existiu uma mestiçagem biológica no Brasil, é difícil exaltá-la. Em primeiro lugar, houve um claro desequilíbrio na entrada de escravizados: 70% eram homens adultos, sendo os outros 30% compostos por mulheres e crianças. Tal desproporção estava também presente na sociedade brasileira colonial como um todo, a despeito de um pouco menos pronunciada: 60% eram homens e apenas 40% mulheres.
A assimetria populacional fez com que a mistura fosse resultado não de um projeto (assim chamado) humanitário, mas antes das “necessidades do corpo”. Além do mais, diante da profunda hierarquia que o sistema criava, as relações entre senhores e escravizadas eram, na imensa maioria das vezes, forçadas e não consensuais. Taxas de estupro na alcova dos proprietários escravistas eram das mais elevadas, assim como imensa a quantidade de crianças que apenas conheciam sua filiação materna, uma vez que o pai, de praxe, não oficializava a relação.
Mestiçagem pode ser pensada, portanto, como “mistura”, mas também como “separação”; uma separação autoritária e hierárquica. É por isso que a frase de Bolsonaro diz muito sobre o que ela não diz. Sobre o que precisa ficar oculto. Isto é, se é preciso afirmar que “não existe isso” é porque justamente existe “isso”, sim. Negar sempre foi uma forma de esconder o “isso” que existe entre nós. E para dar conta de tanta negação, e na via oposta, desenvolveu-se uma longa ladainha de um país marcado por uma suposta e imanente “democracia racial”.
Foi em 1838, logo depois de nossa independência política, que foi fundado o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, cujo objetivo central estava inscrito nos termos do primeiro concurso organizado pelo estabelecimento. Em 1844, abriam-se as portas aos candidatos que se dispusessem a discorrer sobre uma questão espinhosa, dessa forma proposta: “Como se deve escrever a história do Brasil”.
Se fácil não fosse, mais fácil ficaria se mudássemos os termos da seguinte maneira: “como se deve inventar uma história do e para o Brasil”. Tratava-se, portanto, de dar um pontapé inicial para aquilo que chamaríamos, anos mais tarde, e com a maior naturalidade, de “História do Brasil”, como se essas narrativas nascessem prontas, a partir de um ato exclusivo de vontade ou do, assim chamado, destino. Ao contrário, momentos inaugurais como esses são bons para iluminar os artifícios da cena e seus bastidores. Nesse caso, o objetivo era criar apenas uma história, e que fosse (por suposto) nacional, imperial e de quebra carioca.
O primeiro lugar ficou para um estrangeiro; o afamado cientista alemão Carl von Martius (1794-1868), que advogou a tese de que o país se definia por sua mistura, sem igual, de gentes e povos: “Devia ser ponto capital para o historiador reflexivo mostrar como no desenvolvimento sucessivo do Brasil se acham estabelecidas as condições para o aperfeiçoamento das três raças humanas que nesse país são colocadas uma ao lado da outra, de uma maneira desconhecida da história antiga, e que devem servir-se mutuamente de meio e fim”. Utilizando-se da metáfora de um caudaloso rio, correspondente à herança portuguesa, que acabaria por “absorver os pequenos confluentes das raças India e Ethiopica”, o Brasil surgia representado a partir da particularidade das suas etnias misturadas. Se era complicado destacar a imensa participação negra nesse novo país, já que ela lembrava a escravidão, nem por isso o Império abriu mão de se autorrepresentar como uma nação caracterizada por sua coloração distinta, pois, mestiçada.
Segundo a metáfora do naturalista, o Brasil poderia ser definido por meio da imagem fluvial. Três grandes rios comporiam uma mesma nação: um grande e caudaloso, formado pelas populações brancas; outro um pouco menor, nutrido pelos indígenas, e ainda outro, mais diminuto, composto pelos negros. Ali estavam eles, todos juntos, mas diferentes e separados. Afinal, ficava logo evidente qual era o mais central dos rios e de que maneira ele se impunha e dominava os demais.
De fato, essa era uma ótima forma de “inventar” uma história local: a boa cantilena das três raças, que continuaria encontrando ressonância entre nós. Tanto que vários autores repetiriam, com pequenas variações, o mesmo argumento. Silvio Romero em “Introdução à história da Literatura Brasileira” (1882), Oliveira Vianna em “Raça e assimilação (1932), Arthur Ramos em “Os horizontes místicos do negro da Bahia (1932) e assim vamos. Mas foi sobretudo Gilberto Freyre quem tratou de consolidar esse tipo de teoria, não só em seu clássico, “Casa Grande & Senzala”, (1933), como, alguns anos depois, em seus livros sobre o lusotropicalismo, como é o caso de “O mundo que o português criou” (1940). Assim, se foi Arthur Ramos que cunhou o termo “democracia racial”, e o endereçou ao Brasil, foi Freyre seu maior divulgador, exportando a expressão (e seu conteúdo) também para o exterior.
A tese de Freyre teve tal repercussão, que chegou até à Unesco, a qual, no final dos anos 1940, permanecia sob o impacto do racismo e da violência praticados durante a Segunda Guerra Mundial. Foi assim que, pautada nas teses do antropólogo de Recife, e na certeza de que o Brasil representava um exemplo de harmonia racial para o mundo, a instituição financiou uma investigação com a intenção de comprovar a inexistência “disso” no Brasil.
Mas o resultado foi paradoxal. Enquanto as pesquisas realizadas no Nordeste do Brasil, feitas, sobretudo, pelo pesquisador norte-americano Donald Pierson (1900-1995), comprovaram os pressupostos de Freyre, o grupo de São Paulo, liderado por Florestan Fernandes (1920-1995), concluiu justamente o contrário. O maior legado da escravidão seria a consolidação de uma profunda e entranhada desigualdade, expressa nas mais diversas áreas, e que encontrava na “questão racial” um agravante definitivo. Nas palavras do sociólogo paulista, o brasileiro “teria preconceito de ter preconceito”; preferia negar, antes de reconhecer e atuar.
Aliás, chama atenção a persistência do fenômeno que Florestan Fernandes denominou de “o mito da democracia racial”, bem como a negação social praticada pelos brasileiros. Em 2001, realizou-se na Universidade de São Paulo um censo étnico (não obrigatório) que gerou todo tipo de reação. Muitos se recusaram a responder ao questionário, enquanto outros se saíram com respostas do tipo: “eu não tenho esse problema”. Ora, quem precisa afirmar que “não tem esse problema” é porque justamente o tem. Outro exemplo: em pesquisa nacional implementada pela mesma universidade, no ano de 1988, 96% dos brasileiros disseram não serem racistas, sendo que 99% dos mesmos respondentes alegaram conhecer, sim, pessoas racistas. E, por sinal, indicaram relações bem próximas: vizinhos, parentes, namoradas e namorados, amigos... Mais uma vez a lógica é aquela do “eu não sou isso, mas você é”.
Há, pois, uma imensa proximidade entre a “teoria do isso” de Bolsonaro com esse tipo de reação, quase estrutural, que faz com que a recusa do preconceito tome a forma de cegueira nacional. Ou seja, é até possível reconhecer que exista algum tipo de discriminação, mas ela é sempre um problema do “outro”.
De lá para cá, como se vê, muito e pouco mudou. A cada duas semanas que sento para escrever minha coluna, novos casos de racismo aparecem, como o que acaba de ocorrer na Faculdade de Santa Cruz do Sul, onde foram encontradas, nas portas de um banheiro, pérolas do pensamento racista e uma verdadeira apologia da violência. “Morte aos negros e fim das cotas para eles”, são mensagens covardes, deixadas por valentes anônimos, escondidos nos mictórios masculinos.
Também gostaria de lembrar o editorial do jornal O Globo, de 2 de julho de 2018, que defendeu o fim da política de cotas a partir de uma argumentação, aparentemente, cheia de boas intenções: “ ... é um equívoco de militantes desconhecer a formação miscigenada da sociedade brasileira, o que se reflete num convívio no país sem as tensões existentes em outras sociedades. Este é um patrimônio nacional que deixa marcas na produção cultura brasileira e precisa ser defendido, protegido. A questão das cotas raciais é inevitavelmente contaminada pela sua origem: os Estados Unidos, cuja sociedade tem uma de suas fundações assentada na ideia nada científica de ‘raça’. Muito diferente do Brasil e de sua formação”.
Quase 200 anos depois, a tese vencedora de Von Martius parece ainda estar na moda. É possível ler o editorial pelo que ele diz, e, mais uma vez, pelo que não diz. Miscigenação é patrimônio, no sentido de que precisa ser tombada? Que eu saiba, esse não é um dado natural da sociedade brasileira, mas antes uma construção social, e das mais ambivalentes. E a que “miscigenação” o periódico se refere? Afinal, no Brasil combinamos, perversamente, uma certa inclusão cultural com uma irrefutável exclusão social. Por fim, como dizer que não existem tensões raciais no país, quando o Atlas da Violência de 2018 demonstra exatamente o oposto, comprovando que há uma geração de jovens negros sendo mortos neste exato momento, e várias gerações de mulheres, sobretudo negras, perdendo suas infâncias por conta da gravidez precoce e forçada? A questão tem a ver com a pobreza e a desigualdade, como afirma o editorial do jornal carioca, mas basta tomar os dados mais recentes para comprovar como pobreza tem cor.
Por fim, se sabemos que raça é um conceito que não se sustenta cientificamente (pois só há uma raça, a humana), conhecemos o poder da “raça social”. Aquela construída pelas sociedades, e que tem a capacidade de transformar meras diferenças fenotípicas em desigualdades de largo alcance. É só usando esse conceito que podemos entender por que essa “nação miscigenada” mantém um padrão de convivência social bastante reduzido entre brancos e negros. Quem discordar basta fazer sua própria investigação: entre em algum shopping próximo, escolha um restaurante elegante, observe o público que frequenta teatros, cinemas e clubes, verifique a cor da clientela de nossas escolas privadas. Essas e outras instituições vêm demostrando como nós brasileiros vivemos juntos e separados; juntos mas separados.
É por essas e por outras que o mito da democracia racial, mesmo que desmentido pelas estatísticas oficiais, continua ativo e em boa forma. Estamos diante da eficácia simbólica, nos termos do etnólogo Claude Lévi-Strauss. Distante do senso comum, que vincula a noção de mito com a ideia mentira, o certo é que a força de um mito, sua eficácia, vem das contradições profundas que o fundam. Justamente, a certeza de que nosso passado (recente) criou uma sociedade campeã em desigualdade, mas que insiste em não se dar conta dela. Talvez o nome desse tipo de atitude seja dialética do isso, ou, então, amnésia nacional.