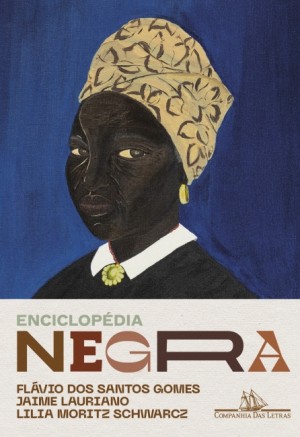Colorismo ou que horas são?
Temos que evitar o perigo de dividir aqueles que lutam por um país mais igual e deixar incólumes e satisfeitos os que acreditam que racismo no Brasil não passa de conversa mimimi
Existem vantagens e desvantagens no fato de escrever uma nova coluna a cada 15 dias. A desvantagem é passar a impressão de que se está, sempre, correndo “atrás do atraso”, ou que se quer requentar história velha e que todo mundo conhece. A vantagem vem, talvez, da maturidade e da possibilidade de escuta que só uma certa distância pode trazer.
Vivemos numa época de imediatismos, que fazem com que as notícias estourem na mídia com a mesma velocidade que desaparecem. Linchamentos virtuais são em geral passageiros, a despeito de muito dolorosos na perspectiva de quem os sofre. É por isso que vale a pena esticar a duração de certos episódios, que parecem superados, procurar sair da política de humores acalorados ou dos ódios localizados e tentar perscrutar o que existe por detrás de tanto barulho. Gostaria de retomar, pois, um evento que mexeu com a mídia da semana passada: o caso da cantora Fabiana Cozza, que, segundo sua própria e sensível definição: “dormiu negra e acordou branca”. Diante da pressão das feministas negras, a cantora acabou desistindo de atuar num espetáculo sobre a vida de Dona Ivone Lara, por mais que contasse com a benção da família e da própria sambista. Nem mesmo o fato de ser descendente de pai negro, de se definir e se apresentar como negra, e de ter um repertório musical e pesquisas em torno de canções e ritmos afro-brasileiros deu conta de segurar o rojão dos ativismos.
Pensada nesses termos, a atitude dos coletivos feministas negros lembra censura e intimidação; práticas das quais temos que abrir mão se queremos lutar por um país mais democrático e justo.
Também acredito que a perseguição individual é um pedaço de mau caminho. Particularizar a denúncia implica não permitir que se dê atenção, de fato, ao que se está denunciando: a existência de um racismo estrutural e que faz com que negros e negras tenham menos acesso à educação, à saúde, mas também ganhem um protagonismo restrito na nossa cena cultural. Persiste não só uma ultrajante desigualdade econômica e social, como uma forte discriminação na mídia, no cinema, na literatura, nas artes plásticas, na universidade e no teatro.
Assim, se é preciso falar da dor de Fabiana, e do ataque, na minha opinião, injusto, não me parece suficiente apenas acusar o movimento negro ou desfazer do que está na raiz desse episódio. É justamente essa persistente invisibilidade que está em jogo na prática das feministas negras, e que deveria entrar na agenda de todos os brasileiros. De um lado, pesquisas recentes têm mostrado como o marcador de diferença “raça/cor”, quando interseccionado com “classe”, revela dados insofismáveis de discriminação. Por exemplo, um jovem negro tem 2.5 vezes mais chances de morrer de forma violenta do que um branco. Por outro lado, se incluirmos mais uma variante – gênero/sexo – as políticas de desigualdade tornam-se ainda mais aterradoras.
Até os dias de hoje, mulheres negras são as mais dependentes do SUS, e, igualmente, as que menos recorrem a medicina preventiva, como a mamografia. São elas também as mais prejudicadas pelos trabalhos informais e pela “cultura do estupro”, que faz parte do cotidiano vexaminoso do país. Isso sem esquecer que a população carcerária feminina é a mais solitária, recebendo menos visitas nos dias regulamentares.
Eu poderia desdobrar dados desse tipo; quero, porém, tratar de um conceito, pouco conhecido de boa parte dos brasileiros, mas que é central na compreensão desse debate: o “colorismo”. Colorismo, ou pigmentrocracia, é uma forma de discriminação pautada na cor da pele, no fenótipo, sendo recorrente em países de passado colonial e domínio europeu. De uma forma geral, ele faz com que, quanto mais negra for a pessoa, mais discriminada ela será, sendo o contrário igualmente verdadeiro.
O colorismo não é, porém, um mero detalhe; trata-se de uma linguagem social com graves consequências: ela limita o acesso a empregos e serviços, gera diferenças nos salários e impede o exercício de uma cidadania plena.
No Brasil, esse tipo de modelo já fez escola. Na época em que no país ainda vigia o sistema escravocrata (quase ontem, uma vez que a abolição só ocorreu 130 anos atrás), era comum que escravizadas mais claras fossem alforriadas em primeiro lugar. Também era costume escolher amas mais brancas, como forma de evitar a “contaminação” das crianças com hábitos “por demais africanos”.
Outro exemplo. No Congresso Universal das Raças, realizado em Londres no ano de 1911, o representante brasileiro, o então diretor do Museu Nacional, João Baptista Lacerda (1846-19150), defendeu uma tese pautada no colorismo. Chamado “Sur les métis” (Sobre os mestiços), o ensaio alegava que em um século, ou em três gerações, o Brasil seria branco, praticamente grego, numa associação evidente entre cor e “civilização”.
O antropólogo tratou de incluir na publicação, especialmente preparada para circular no encontro, uma tela do pintor acadêmico espanhol, Modesto Brocos, chamada “Redenção de Cã” (1895). O quadro segue um argumento central: o paralelo entre a situação brasileira e o episódio bíblico “do filho mau”, Cã, que teria zombado de Noé, quando o viu bêbado, e foi por isso amaldiçoado; tornou-se “servo dos servos”. Além do mais, segundo o Velho Testamento, Cã teria um suposto ascendente negro, o que fez com que os defensores da escravidão negra usassem a passagem para justificar tal sistema.
MODESTO BROCOS. REDENÇÃO DE CÃ. 1895. COLLECTION MUSEU NACIONAL DE BELAS ARTES/ RJ
Na obra, podem ser observadas três gerações: uma mãe muito negra mais à esquerda; uma filha com traços “depurados”, como se dizia nesse contexto, e o bisneto (ou bisneta) branco, de cabelos lisos. A pintura mereceu e merece muitas interpretações. No nosso caso, sublinho a mensagem direta da obra: a “evolução” social faria do Brasil um país branco. Aliás, teóricos de época, como Nina Rodrigues (1862-1906) e, um pouco depois, Oliveira Viana (1883-1951) e Renato Kehl (1889-1974), também apostavam num “processo civilizador e branqueador” e na eugenia como solução.
De lá para cá, tais teorias foram condenadas cientificamente, mas persistem na poderosa ideologia do senso comum. Mesmo atualmente, ter cabelo crespo, nariz arredondado ou largo, apresentar a pele mais escura são marcas visuais distantes dos critérios de beleza ocidentais e, também, dos lugares de mando. É por isso que negros e negras não figuram nos retratos das pinacotecas, e raramente ganham papéis de heróis e heroínas com protagonismo. É também por esse motivo que pintores acadêmicos, do século 19, alegavam não ter destreza para pintar a cor marrom, ou que a Kodak, até 1954, usava como modelos os famosas “Shirley cards” (com mulheres brancas e em geral loiras), listando dificuldades na produção de retratos de pessoas negras, as quais, segundo eles, saíam nas fotos ou muitos escuras ou brancas demais. Claro está que o problema não era técnico, mas moral: a cor negra não merecia retrato na parede ou foto no álbum de família.
A percepção social das cores é tão forte no Brasil que o sociólogo Oracy Nogueira, já nos idos de 1955, explicava que no país seria vigente um “preconceito de marca” (pautado no fenótipo), e nos Estados Unidos um “preconceito de origem”, condicionado pela descendência. Não existe preconceito bom; muito menos “melhor”. No entanto, esse gradiente de cores faz com que nosso racismo pareça mais poroso e aberto, o que de fato não é.
Colorismo é, igualmente, a maneira como os brasileiros negociam com tons de pele, oficialmente. Em 1976, numa pesquisa nacional por domicílios, a Pnad, foram mencionadoas 136 cores diferentes. Se muitas delas remetiam a um (quase) arco-íris nacional – com os entrevistados se definindo como amarelos, vermelhos, brancos, pretos mas também verdes, lilás ou roxos --, chama atenção a quantidade de termos “nas margens”: quase branca, quase negra, puxa para branco ou queimada de sol são todos conceitos que revelam de que forma essa política de branqueamento encontra-se enraizada entre nós.
No plano afetivo, durante largo tempo, expressões como “casar bem”, “cabelo bom”, “pele bonita” ou “maquiagem cor de pele”, silenciavam, na base do eufemismo, como a brancura é padrão no Brasil. Por sinal, num país de passado e presente machistas, como o nosso, em que os homens continuam a deter as posições de mando e os melhores salários, nas mais diferentes esferas, a cor das mulheres é um elemento a mais, na arquitetura da discriminação. O estereótipo de beleza está associado à branquitude, o que faz com que nossos demógrafos concluam que a “pirâmide da solidão” seja ocupada por mulheres mais velhas, e negras.
O colorismo é, portanto, um aspecto importante da discriminação racial vigente no Brasil, sendo ainda mais radical quando endereçado às mulheres. Homens negros, em processo de ascensão social, costumam casar-se com moças mais brancas. Já às mulheres negras, esse “mercado” é menos facultado, por causa, justamente, da estética social disseminada em nossa sociedade.
Os efeitos perversos do colorismo atuam, dessa maneira, de forma severa nas vidas das pessoas negras e sobretudo no dia a dia das mulheres negras, que têm que lutar para manter políticas de autoestima, para não se verem diminuídas ou excluídas diante da “naturalização” do dia a dia. Cor social é, pois, uma forma cruel de racismo, que precisa ser denunciada e combatida.
Persiste, porém, o problema com que iniciei esta minha coluna. Como evitar o linchamento individual, ou o uso de uma régua de cor tão severa quanto invertida, e, ao mesmo tempo, tornar público o problema do colorismo?
Não há como negar a importância de uma dupla agenda nacional: a luta contra o racismo e contra o machismo. Creio, no entanto, que é de bom alvitre selecionar melhor o inimigo e não errar o alvo. O perigo é dividir aqueles que lutam por um país mais igual, e deixar incólumes e satisfeitos os que acreditam que racismo no Brasil não passa de conversa mimimi.
Personalizar o ataque (como se fosse uma questão privada), sequestrar as pautas públicas e selecionar o vilão errado pode fazer, de um tema cidadão, uma agenda impopular. Não desconheço que essa seja uma estratégia política que objetiva dar visibilidade a uma questão pouquíssimo reconhecida no Brasil. Foi o feminismo negro que convocou a sociedade brasileira para lidar com um tema espinhoso como esse, e transformou uma “circunstância”, nos termos do antropólogo Marshall Sahlins, num “evento”, com amplos significados sociais. Perdeu-se, todavia, a oportunidade de encontrar uma estratégia que chamasse por solidariedade e identificação.
Durante o período colonial, foi disseminado um provérbio que afirmava que “branca era para casar, mulata para fornicar e negra para trabalhar”. A partir de uma pequena nuance de cor revelavam-se imensas distâncias sociais; quase intransponíveis. A partir dessa métrica tão “colorida”, como internalizada, no Brasil “brancura” virou símbolo de beleza e poder; “mulata” uma referência à animalidade sensual (na sua associação com a imagem da mula) e “preta” um sinônimo de trabalho de carga.
Sabemos que a cultura é o que ela faz. É por isso que cores produzem realidades sociais que precisam ser reconhecidas e denunciadas. A questão é como, de que maneira? Se a resposta estivesse pronta não estaria eu aqui estacionada na pergunta. Só o que sei é que a hora é agora. Termino sequestrando o título provocativo de um livro do crítico literário Roberto Schwarz. Afinal, brasileiros, “Que horas são”?