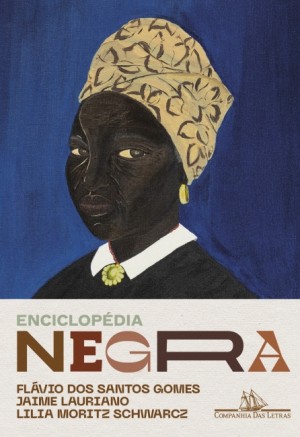Lima Barreto, um intelectual de fronteira: entrevista com Lilia M. Schwarcz
Em Agosto de 2017, a Revista Habitus, junto com a Companhia das Letras, o Núcleo de Estudos Comparados e Pensamento Social (NEPS-IFCS), o Instituto de História (IH-IFCS) e o Pro- grama de Pós-Graduação em Sociologia e Antropologia (PPGSA-IFCS), fez o lançamento do livro “Lima Barreto: Triste Visionário” de Lilia Moritz Schwarcz, no auditório da mesma universidade em que Lima Barreto um dia estudara quando ainda fazia parte da Escola Politécnica. Pela imensa im- portância das discussões ali debatidas e da enorme repercussão que vem ganhando esta obra sobre a literatura negra no Brasil, pedimos para Lilia uma entrevista para nossa revista, a qual aceitou.
Autora de obras como “Brasil: Uma Biografia” e “Batalha do Havaí”, outorgada pela Academia Brasileira de Letras, professora na Universidade de São Paulo e professora visitante em Princeton, Lilia M. Schwarcz tem sido um nome de extrema importância no estudo de raça no Brasil. Sua última obra “Lima Barreto: Triste Visionário” tem tido sucesso em todo o país, e remodela a maneira de observar a literatura negra da Primeira República.
Nesta entrevista, a autora nos conta sobre o seu caminho profissional, o processo de criação da biografia, suas descobertas e dificuldades desde o momento de sua idealização, como também a impor- tância de recuperar Lima Barreto em um momento no qual a valorização da cultura negra está direta- mente associada com o processo de resistência que populações periféricas – de maioria afrodescendente – enfrentam diante do aumento das políticas de violência contra seu povo.
Revista Habitus: Lilia, a gente queria primeiro que você contasse sua trajetória. Como você se inte- ressou pela Antropologia, por História e especialmente nos estudos sobre raça?
Lilia Schwarcz: Faz tempo, não é? (risos)
Revista Habitus: É, vamos começar lá atrás.
Lilia Schwarcz: Eu vou contar uma história pitoresca, não sei se vocês já sabem, mas ela é verdadeira. Quando eu fui fazer o vestibular, pensei que tinha prestado para Ciências Sociais. Na minha época, você fazia uma “re-opção”, você tinha uma segunda opção e a minha segunda opção era História. E aí quando saiu o resultado do vestibular, eu fui lá na Fuvest e falei assim "eu queria ‘re-optar’ para minha primeira opção". E aí o sujeito olhou pra mim e falou: "como assim? a sua primeira opção é História". Ou seja, eu pensei que tinha prestado para Ciências Sociais e prestei História. Foi quando o funcionário me disse "então... você começa História, que é um bom curso simpático, depois você vai para Ciências Sociais". Fiz, então, História e não quis mudar para Ciências Sociais. Durante a graduação eu estudei com o pro- fessor Fernando Novaes modelos de escravidão em lugares de menor produção. Com o Professor Jaime Pinsky fiz uma pesquisa sobre escravidão em Vila Bela (hoje Ilha Bela). Esse foi meu início. No entanto, quando fui prestar o mestrado, achei que gostaria de estudar não apenas o número de escravos e aferir a quantidade de fugas (por exemplo). Eu queria mesmo era entender as representações dos escravos nos jornais. Naquela época conheci, por causa do meu trabalho na Brasiliense –eu organizava uma coleção chamada "Tudo é História" –, o professor Carlos Brandão. Foi Brandão quem me disse que eu precisava enveredar para uma questão mais teórica. Foi então que decidi estudar representações sociais e pensei em prestar Antropologia na Unicamp, onde Brandão lecionava. Eu acabei entrando na antropologia da Unicamp. Ocorre que descobri que estava grávida da minha filha Júlia. O chefe do departamento era o Professor Antonio Augusto Arantes. Então eu marquei uma reunião com o Arantes, porque, como havia entrado em primeiro lugar e teria bolsa, julguei que precisava me explicar. Telefonei então para o pro- fessor alegando “que tinha um problema”. E aí ele me respondeu "qual é o seu problema?". Respondi que preferia falar pessoalmente. Achava que estava traindo a pátria (risos). Cheguei em Campinas pre- ocupada e disse ao Arantes: "Professor Arantes, eu estou grávida de quatro meses. Eu não sabia, o senhor precisa acreditar". Eu lembro que o Arantes assim reagiu: "você não tem um problema, você tem uma solução". Na minha vida tudo se inverte: entrei com a orientação da Manuela [Carneiro da Cunha], e quando ela foi fazer pesquisa na África, Arantes, como chefe, assumiu minha orientação. No mestrado eu entrei com o projeto que eu mantive, sobre os negros nos jornais. E o material rendeu muitíssimo. Na época, esse era quase um anti-tema na universidade. As pessoas achavam que ali não havia problema, não tinha questão. Defendi e publiquei o mestrado – “Retrato em branco e negro” (1988) - e resolvi prestar o doutorado com a Manuela. A essas alturas, ela tinha ido pra USP. Eu entrei no doutorado com um projeto bem bonito sobre os Kaingang, sobre o massacre dos Kaingang no final do século XIX, um projeto mais afinado com as questões da Manuela. Novamente fui bem posicionada na seleção, mas comecei a falar pra mim mesma "eu não quero fazer esse projeto" (risos). Na verdade, tinha me sobrado “um resto de pesquisa ” acerca do tema do apartheid social quase vigente no início do 20. E aí eu fui construindo a pesquisa. Entrei no IDESP1 nessa época, num projeto sob liderança do Sergio Miceli. Era um grupo incrível: Marisa Correia, o Sergio Miceli, Heloísa Pontes, Maria Arminda do Nascimento Ar- ruda, enfim, um grupo que me ensinou muito. Eu era a única que trabalhava o século XIX. E para a pesquisa do Sergio eu comecei a fazer o que eu queria (risos). Comecei a estudar as instituições brasilei- ras do XIX. Iniciei pelos Institutos Históricos Geográficos Brasileiros e falei para mim mesma: "aí tem coisa!". Enveredei depois pelos museus de etnologia. Esses dois lados do meu projeto foram feitos para a pesquisa do Sergio Miceli. Tomei então coragem e cheguei para a Manuela e disse "eu quero fazer outro trabalho ". Manuela é uma orientadora à moda antiga; exigente, compreensiva, mas muito crítica. Ela desconfia, cobra do aluno. Para vocês terem uma ideia, até a última hora a Manuela achava que eu não tinha projeto lá (risos). Mas foi muito bom para mim, porque eu tive que ficar me defendendo muito e isso me fez afinar a pesquisa. Passei a estudar as faculdades de Direito e quando eu entrei nas faculdades de Medicina foi como "mel". Porque eu estudei o Renato Kehl, o Nina Rodrigues e toda essa elite do darwinismo racial que na época eu não conhecia. Enfim, essas eram as teorias raciais e na época a gente conhecia muito mais os anos 30 pra cá e a ideia do Gilberto Freyre do que esse tipo de modelo. Eu comecei a dar aula logo no final do mestrado, na Unicamp. Na época do doutorado entrei num concurso para professor na USP. Na USP havia uma tradição de estudos sobre a questão racial. A Manuela estava por lá, assim como o professor João Batista e o professor Kabengele Munanga. Tomei como “missão” que esse era o tema que eu desenvolveria: a questão racial. Mesmo quando comecei a trabalhar na pes- quisa que resultaria no livro "As Barbas do Imperador", a questão era importante. Depois do "Barbas" eu fiz o "A longa viagem", que foi uma escapada no caminho: estudei a independência do Brasil por meio dos bibliotecários. A pesquisa seguinte me levou ao mundo de Taunay, e a questão racial estava de volta. Pretendia entender porquê do Nicolas-Antoine Taunay, que era um artista acadêmico que fazia minia- turas, pinturas de história, era professor na academia francesa, quando veio ao Brasil nunca deixou de tratar da escravidão. Na sequência escrevi “Brasil: uma biografia”, junto com Heloisa Starling, onde a questão racial é também basilar. Nesse meio tempo, também trabalhei no grupo da coleção "História da vida privada". Foi nesta época que escrevi a primeira versão do texto "Nem preto nem branco, muito pelo contrário". Lá arrisquei essa ideia de que a questão racial naquele momento era uma questão de fórum privado, que ninguém falava. Nesta época, na USP, desenvolvemos uma pesquisa sobre discrimi- nação racial. Recebi cartas muito ofensivas dizendo que eu com esse meu nome de judia não poderia discriminar. E eu sempre julguei que praticar o racismo era praticar o silêncio. O obscurantismo é não poder falar do tema e o que fazíamos na pesquisa era o oposto. Depois escreveria com Lucia Stumpf e Carlos Lima o livro "A Batalha do Avaí", onde analisamos apenas uma tela (do Pedro Américo). Mostra- mos como a questão racial era fundamental. Isso numa tela que dividiu o Império porque mostrou ne- gros combatendo lado a lado com brancos. Incrível como esse é um tema que é quase um tabu. O racismo é um dos pilares perversos da história do Brasil, mas muitos jornalistas ainda me inquerem a respeito. Foi nesta época que me preparei para esse livro sobre Lima Barreto que, eu digo sempre e é verdade, eu vim escrevendo a vida toda. Eu sempre dei aula de pensamento social, sempre dei o curso que chamei de "Uma antropologia do Brasil" e que se concentrava no período de 1870 a 1930. E nele sempre me emocionava com a aula sobre Lima Barreto. Depois que acabei o "Brasil", eu entrei de cabaça no livro. Meu amigo André [Botelho] está de prova como em três meses fiz a primeira versão do livro. Eu estava quase que grávida do livro (risos). Essa é uma questão que me toca profundamente. Tenho um ativismo antigo, luto por cotas e pela afirmação positiva. E me orgulho muito que, mesmo atrasados, finalmente tenhamos um programa de cotas na Universidade de São Paulo. A questão racial é um tema incontorná- vel na nossa agenda cidadã e sempre fez parte das minhas preocupações.
Revista Habitus: Como foi o processo de pesquisar os dados da vida do Lima Barreto e organizar tudo em um livro?
Lilia Schwarcz: Esse curso "Uma história da antropologia" era “uma” história da antropologia e não "a história". Eu lia com os alunos o "Diário do Hospício" e lia o "Cemitério dos Vivos" de Lima Barreto. Lima Barreto é um autor da minha cabeceira e não sei quantas vezes eu li "Triste fim", "Clara dos Anjos" ou os contos deste autor. Eu sempre achei que Lima Barreto era um intérprete do Brasil do pós-abolição, mas um intérprete para o Brasil. E me impressionava sempre mais como o Lima Barreto era uma voz única. Basta lembrar do hino da República que dizia: "nós nem cremos que escravos outrora tenha ha- vido em tão nobre país". "Outrora" era um ano e meio atrás, mas ninguém queria falar do tema. E Lima Barreto falava a todo momento, nas crônicas, nas colunas, nos romances, e me impressionava muito essa voz solo do escritor, essa voz solitária. Do tipo: "Fui chamado para a embaixada do Chile. Não pe- diram documentos a ninguém, a mim pediram. Me chateei". Esse tipo de declaração era uma coisa muito forte naquele contexto e hoje. Eu sabia também que esse seria um livro difícil, muito dolorido de fazer. Lima Barreto é um autor que tem mais teses sobre ele do que críticos da sua literatura. Lima Barreto também foi um autor condenado por sua biografia, ou seja, outros autores foram boêmios, mas só Lima teve seu biografismo tão colado a sua vida. Além do mais, eu sabia que Lima tinha uma excelente bio- grafia, escrita em 1953 pelo Francisco de Assis Barbosa. Lima também teve excelentes críticos, estudio- sos como Beatriz Resende, Arnone Prado, Francisco Foot Hardman, Nicolau Sevcenko que faleceu re- centemente, Luciana Hidalgo... Minha única oposição a essa literatura é de que havia uma vitimização muito grande de Lima Barreto. Eu acho, sim, que Lima Barreto foi uma grande vítima. Mas ele foi mais que isso, ele pede mais de nós. Porque foi um intérprete do Brasil, foi uma pessoa com muitos projetos, uma pessoa com muitos sonhos. Eu também acredito que biografia não deve transformar o autor num herói absoluto. Eu via um autor muito contraditório, e tentei trazer ambiguidade na biografia. Também me preocupava e questionava o meu protagonismo. Mas acho que a questão do racismo não é só dos negros e afrodescendentes. Ela é uma questão que interpela a nossa República. É certo que o protago- nismo é dos negros; a dor e o preconceito eu não conheço. Mas ao mesmo tempo, como eu digo na introdução do livro, eu me sinto “afetada” pelo tema. No sentido rousseauniano da alteridade que trans- forma. Enfim, eu sabia o que ia enfrentar, mas eu vinha me preparando e escrevendo muito sobre Lima. Tive pesquisadores sensacionais: a Paloma Malaguti, o Pedro Cazes, o Pedro Galdino, Paulinho... e fui em frente. Testei o tema publicando um artigo na revista de Sociologia & Antropologia. Queria muito entender se havia novidade na minha pesquisa, e a questão da intersecção entre marcadores raciais, de gênero, de região e de geração era central. Na verdade, essas eram questões, como eu digo sempre, da minha geração, que aprendi com a emergência da luta no Brasil pelos direitos civis.
Revista Habitus: Em relação ao Lima, de certa forma essa questão racial é tão forte tanto na vida pessoal dele, em relação à recepção da obra dele por exemplo, quanto na literatura, não?
Lilia Schwarcz: Total. Vejam só "Recordações do escrivão Isaías Caminha" e o diálogo entre o pai do Isaías Caminha, que é um padre, com a mãe, que é uma ex-escravizada. Peguem os trechos dos diários; "Cemitério dos Vivos", quando ele diz "o negro é a cor mais cortante". Tomem os artigos em que ele denuncia as persistências da escravidão e a invisibilidade racial. E isso não é o passado. Quando fui convidada para a Flip, pedi que alguém lesse trechos de Lima Barreto para não parecer invenção minha. Penso que essa invisibilidade da questão racial é às vezes muito barulhenta e às vezes muito invisível. De toda maneira, ainda está presente em nós. Vira e mexe alguém me pega no canto para falar "ah, a senhora está exagerando". Mas basta constatar os dados da PNAD, do IBGE para ver como raça é um plus. Nós vivemos, cada vez mais, em bolhas. A academia pode ser uma bolha. E nos acostumamos a pregar para convertidos. Mas o mundo lá fora é cruel nesse e em muitos sentidos.
Revista Habitus: Lilia, qual você acha que é a importância de resgatar o Lima Barreto para enten- der a questão racial atualmente?
Lilia Schwarcz: Acho que Lima Barreto nunca foi tão atual. Acho que talvez a biografia dele, essa repercussão toda por parte da imprensa, a generosidade com que a academia me recebeu tem a ver com a atualidade do tema. Já no seu contexto, Lima Barreto representou uma voz transgressora, uma voz que não se acomodou, uma voz que foi sim contra o sistema e uma voz como a nossa, contraditória como a nossa (risos), e que tinha as suas idiossincrasias. Ele era contra o feminicídio, mas contra também os grupos feministas; era contra o futebol por bons motivos (porque ele achava que o esporte incitava à guerra), e também porque ele estava vendo o que tinha acontecido em 1922 quando Epitácio Pessoa mudou a coloração dos jogadores. Lima também não é um ingênuo, ele é como nós, a gente erra, a gente acerta. Lima era um escritor afro-brasileiro interessado em questões afro-brasileiras. Ele fazia uma lite- ratura negra, e não por uma questão essencialista; mas porque em sua obra ele tira os negros do segundo plano e os traz para o primeiro plano. Não existe esse fla-flu Lima Barreto contra Machado de Assis. Já temos dicotomias demais para criarmos mais uma. Porém o que os diferia eram projetos literários di- versos. Machado apostava numa literatura mais universal. Já Lima fazia uma literatura que ele definia como militante, ele era um autor do início do século vinte que leu e se apaixonou pelos Russos; era um autor que fazia uma literatura autobiográfica, que na época era considerada sem imaginação. Uma forma de entender essa literatura, na minha opinião, afrodescendente, não é só no atacado, ou seja, observando os protagonistas mestiços; negros; mulatos azeitonas; dentre outros. É possível também pegar no pe- queno, nos detalhes: eu trabalho com o "atacado e o varejo". A forma detalhada como ele descrevia as cores dos personagens não era um detalhe, ou mesmo uma cereja de bolo, era fundamental nos roman- ces. Descrever que o pai de Clara dos Anjos, seu Joaquim, tinha um cabelo “carapinha” e a cor mais escura, e que a mãe de Clara era um pouco mais clara e com o cabelo ruim, era um argumento funda- mental para o Lima Barreto. Então eu concordo muito com o professor Alfredo Bosi quando ele diz que Luís Gama, Cruz e Sousa e Lima Barreto não se conheceram, mas que há entre eles um fio existencial que os une. Lima era um escritor em um país de maioria negra, no qual as pessoas não se diziam negras, e que colocava na frente da sua literatura a realidade do pós-emancipação. Não a escondia, não a tratava como um bastidor.
Revista Habitus: Não só da questão negra, você também citou a questão feminista, dos animais...
Lilia Schwarcz: Esses são aspectos que a gente vai descobrindo no decorrer da pesquisa. Quando eu estava quase entregando o livro, li os textos de uma colega minha da antropologia, a Nádia Farage. Ela tem um argumento fundamental, ou seja, que nos contos, histórias e crônicas, Lima Barreto trata dos animais de forma muito humana. Ela mostra também como o anarquismo de Lima e o conceito de solidariedade anarquista eram fundamentais nessa aproximação com os animais. Como vocês podem notar, biografia é um projeto aberto, não termina.
Revista Habitus: E até que ponto essa literatura dele estava associada à vida real, à vida cotidiana no subúrbio do Rio de Janeiro?
Lilia Schwarcz: Lima Barreto, durante muito tempo, foi tomado apenas como uma testemunha, uma espécie de etnógrafo da Primeira República. Vejam a quantidade de vezes que as pessoas pegam frases do Lima Barreto soltas como uma espécie de documento. Eu começo o livro provocando; já comecei muita briga dizendo que Lima não era bom etnógrafo, pois na verdade o que ele fazia era literatura. O fazer literário, e eu gosto muito do conceito da Manuela Carneiro da Cunha, que chama atenção para a “reflexibilidade da cultura”, é dinâmico. Ou seja, a cultura é o que ela produz, a literatura é o que ela faz. É por isso que Lima, com o correr do tempo, se vivia nos seus personagens, e vice-versa. Se eu dissesse que a literatura não tem nada a ver com o contexto estaria mentindo, até porque o projeto de literatura de Barreto é um projeto militante e impactado pelo "seu momento". Mas se eu disser que a literatura do Lima – e foi o que fizeram – é só o reflexo do seu contexto e da sua biografia, eu estarei brutalizando o material, que é uma mania que às vezes nós, cientistas humanos, temos de limitar a potência imaginativa da literatura. A potência imaginativa da literatura não se resume ao contexto, ela vai muito além. Vejam por exemplo o “Diário do Hospício” e “Cemitério dos Vivos”. Peguem o original que está na Biblioteca Nacional. Há momentos do diário em que, ao invés de assinar Lima Barreto, o escritor assina Vicente Mascarenhas. E há momentos do diário que acontece o oposto. Ele risca Lima e escreve Vicente Masca- renhas. Vocês podem alegar que ele estava louco. Mas eu não acredito, e quem mostra isso também é o Augusto Massi; outro crítico literário muito importante. Na verdade, nesses contextos, Lima estava se ficcionalizando. Então não podemos usar Lima Barreto como testemunho? Sim, podemos! Mas é preciso tomar cuidado; não se pode tomar a literatura como um documento imediato; aliás, não se pode fazer de qualquer documento uma fonte inquestionável.
Revista Habitus: De certa forma as relações íntimas e cotidianas do Lima foram mudando muito enquanto ele se "ficcionalizava", não?
Lilia Schwarcz: Você diz a família?
Revista Habitus: Tanto a família, quanto os amigos, o distanciamento que foi ocorrendo, a relação com o alcoolismo...
Lilia Schwarcz: Mais ou menos, eu tenho dados que mostram como o pai já tinha o alcoolismo como hábito. Mas eu acho que não devemos "biologizar" tudo. Eu não quero passar a imagem que existe algum dado hereditário na família do Lima Barreto e cair, eu mesma, no discurso racial. Os primeiros registros da entrada da bebida na vida do Lima são da época da Politécnica, quando ele era ainda um garoto, e construiu sua turma boêmia, da confraria dos amanuenses. O lema era o seguinte: eles "se reuniam para dizer coisas inúteis". Ele já tinha essa turma na época da Politécnica, o melhor amigo dele, o Noronha Santos, é o velho Noronha, que o acompanha até o último momento. Na última carta que o Lima Barreto manda, ele já não está conseguindo andar direito por conta das juntas inchadas da bebida, e ele pede ao "velho Noronha" que pague as contas pra ele. Também em relação à família, Lima tem uma postura ambivalente. Com seu pai, que na minha opinião é Policarpo Quaresma, uma pessoa sonhadora cheia de planos, mas que não deu certo na vida, ficou alienado em 1902 e nunca mais voltou. Tem gente que diz que foi uma opção, eu não sei se loucura é uma opção, não consigo dizer que loucura é escolha, isso eu não consigo. Mas enfim, com este pai tão solitário, Lima de fato teve uma relação ambivalente. Além disso, ele morreu quase no mesmo dia que o pai; morreu um dia antes na mesma casa pequena no su- búrbio de Todos os Santos, e eles estão enterrados no mesmo cemitério, no São João Batista. Um cemi- tério no bairro de Botafogo, bairro que Lima Barreto, aliás, detestava.
Revista Habitus: Você podia comentar um pouco mais da relação do Lima sobre a cidade do Rio de Janeiro, a relação da periferia com o centro e como isso influenciou na obra?
Lilia Schwarcz: Esse é um dos capítulos que mais me deu trabalho para escrever. A Beatriz Resende tem uma pesquisa maravilhosa tratando desse Lima Barreto do centro do Rio. E o Antônio Arno ni tem um livro maravilhoso sobre Lima Barreto anarquista. Mas acho que não havia sido desenvolvida essa reflexão acerca dos subúrbios e, sobretudo, essa reflexão do “trânsito”, o quanto o trânsito é importante. Os textos sobre os subúrbios são abundantes na obra do autor; às vezes o subúrbio é plano de fundo, por vezes vira personagem de primeiro lugar. Quando ele constrói, por exemplo, o tio Arrelia, que é um su- jeito que conduzia o trem dos subúrbios, é lindo notar como todos os suburbanos viram o tio Arrelia. No “Recordações do Escrivão Isaías Caminha”, o trem tem um papel fundamental. Várias crônicas tratam dos subúrbios e da vida que corre dentro do trem. Eu acho que eu procurei um Lima Barreto mais “largo”. Mas eu não faria essa biografia se não existissem esses outros críticos de Lima Barreto. Lima Barreto traz um Rio um pouco diferente, que incorpora esses subúrbios que fazem parte das reformas Pereira Passos. Lima é quase um “Equede”, cuja função no Candomblé é o trânsito, é transitar e assim criar projetos imaginários e relações.
Revista Habitus: Uma última questão: tanto essa perspectiva entre centro e periferia e centro e su- búrbio me lembra muito o Silviano Santiago com a ideia de entre-lugar ou de obra em trânsito, então fazer literatura no Brasil é um entre-lugar por ser uma área de periferia do mundo. Se puder falar um pouco mais sobre isso.
Lilia Schwarcz: Não é à toa que pedimos a orelha para o Silviano Santiago. Ele tem esse projeto mo- delar, como romancista e como crítico, borrando as fronteiras da biografia. "Em liberdade" é ao mesmo tempo um romance e uma biografia. “Machado” não é uma biografia? Silviano Santiago borra fronteiras; ficcionaliza a vida, e isso é muito difícil para nós, cientistas sociais que mexemos com a literatura como fonte. O Silviano também foi uma influência tremenda por conta das críticas que ele desenvolveu, por exemplo, sobre Policarpo Quaresma. Como ele vai abrindo a horta do João Henriques e mostrando o que quer dizer Policarpo e o que quer dizer Quaresma. Silviano também tem um ensaio fundamental em que mostra como não só o Brasil, mas toda a América Latina vive muito nessa situação do “entre”. Nós já somos “entre” por sermos periferia, então nosso lugar já está dado, não é uma opção nem uma escolha. Silviano é fundamental no meu livro, pois me ajudou a construir esse conceito de ambiguidade e ambi- valência no Lima Barreto. Outro autor fundamental, que na verdade escreve depois do Silviano Santiago, é o Humi Bhaba, que traz para frente o caso da Índia, que também é uma espécie de periferia de outro sistema. Uma literatura do local, mas que se quer universal. Esse lugar “entre” produz essa ambiguidade estrutural. A minha questão, portanto, era, de um lado, perscrutar a questão racial em Lima Barreto. Mas uma biografia tem que dar conta da ambiguidade, da contradição. Lima Barreto é um intelectual de fronteira, e isso é que é interessante. É é um literato, mas ninguém vai negar que ele é um jornalista, ele é um amanuense, ele é um funcionário público, ele é um cronista, ele é um grande escritor de cartas, ele é um intérprete do Brasil. Ele é isso tudo, e se define por esse lugar plural. Enfim, como disse Evaldo Cabral de Melo, "historiador que é historiador tem que calçar as meias do morto ". Eu tentei calçar o Lima, mas, ao mesmo tempo, tirei seus sapatos e deixei que esse personagem múltiplo e contraditório nos “afetasse” como me afetou.
Revista Habitus: Muito obrigado Lilia, foi ótimo, nós da revista Habitus agradecemos.
Lilia Schwarcz: Obrigada a vocês, a honra é toda minha. ![]()